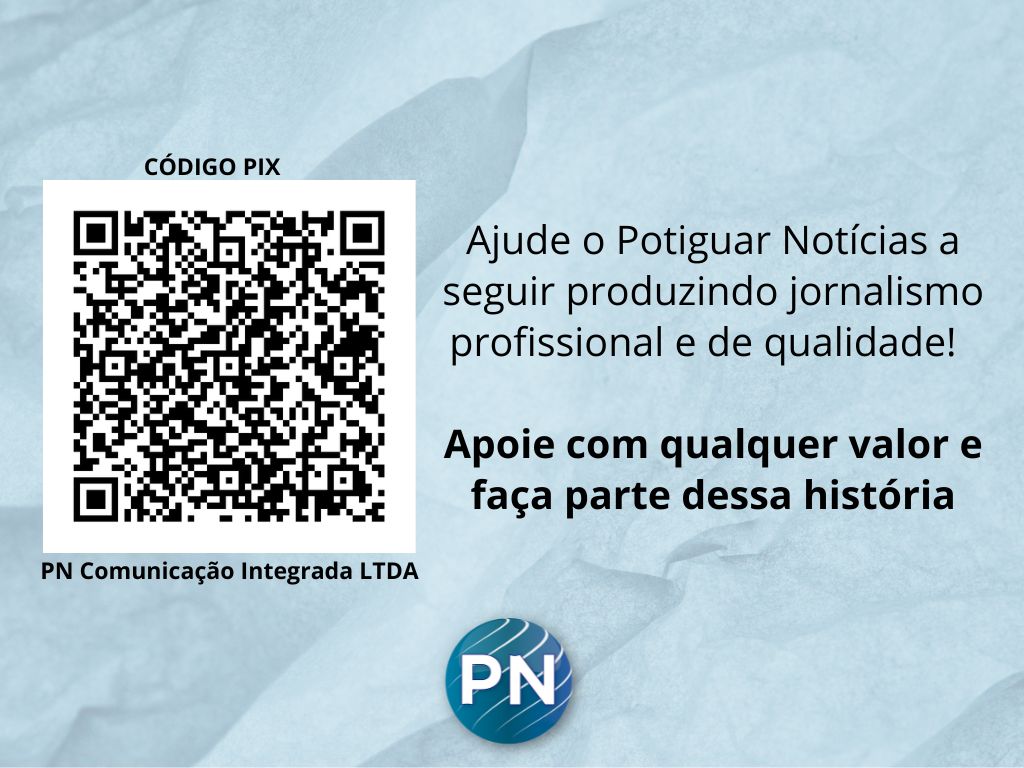Eva Potiguara
Eva Potiguara pertence ao Povo Potiguara Sagi Jacu, em Baía Formosa/RN. Graduada em Artes visuais, Mestrado e Doutorado em Educação pela UFRN, é Professora e pesquisadora do IFESP-SEEC, atuando nos cursos de Pedagogia e Letras. É produtora cultural da EP Produções, escritora, ilustradora, contadora de histórias, articuladora nacional do Mulherio das Letras Indígenas, membro da UBE/RN, da SPVA e de várias academias de Letras no Brasil e em Portugal. Tem livros solos infantis e de poesia, publicados no Brasil
Sou Pardo (a) ou Indígena?
30/04/2024 08h40
Sou Pardo (a) ou Indígena?
Neste último dia do mês de abril, dedicado aos povos indígenas, trazemos novamente este manifesto que configura-se um grito de milhares indígenas no debate sobre o pardismo no Brasil.
Pesquisadores indigenistas no campo da antropologia e da sociologia, escritores e artistas indígenas, vêm ampliando e fortalecendo essa discussão em confronto com os paradigmas colonizadores que instalaram o processo de etnocídio que ainda vivemos.
Lembrando que etnocídio, refere-se “a morte da identidade do sujeito”. Uma espécie de morte etno/cultural, infundida pelo silenciamento e pelo apagamento compulsório, em função dos interesses do domínio colonial. Ailton Krenak denomina o etnocidio enquanto “corpos vivos sem uma identidade consciente”.
A esse respeito, o filósofo e primeiro acadêmico indígena da ALB, traz ao debate, aulas bastante ignoradas nos bancos escolares. Ele afirma que “o truque colonial que produz o pardo, o mestiço e outras categorias de pobreza”, faz parte de toda uma estrutura de dominação das minorias, na qual os povos originários foram violentamente afetados.
São mais de cinco séculos de opressão que ainda sofremos, pois tivemos que esperar a constituição de 1988, para termos a liberdade de assumirmos a cidadania brasileira sem abrirmos mão de nossa diversidade étnica, religiosa e cultural. Os desafios para combatermos o etnocídio, se desdobraram em árduas lutas e conquistas de retomadas de comunidades indígenas apartir dos anos de 1970, em busca de suas raízes ancestrais.
Nossa família Potiguara do RN e da Paraíba, por exemplo, remanescente desta nação pelo lado paterno e pelo lado materno, têm os registros da maioria dos familiares como pardos. As informações colhidas por entidades religiosas católicas e pelos cartórios, não consideram os dados étnicos tradicionais de nosso povo, negando e silenciando das histórias de vida implícitas nos territórios colonizados.
Como muitos outros brasileiros e brasileiras, nos debruçamos nesse debate, como descobridores famintos da própria história e identidade. Pesquisamos os documentos de batistério e de óbitos familiares e fomos tecendo uma teia, associando os dados aos relatos das avós dos nossos pais e de nossas tias.
No decorrer desta busca, o que nos chamou a atenção, foram algumas contradições entre os informes escritos nos cartórios e as narrativas dos familiares. Percebemos que alguns fatos históricos não correspondiam aos dados informados, gerando mais dificuldades de obtermos respostas mais concretas.
Depois de questionarmos a respeito disso com a nossa mãe e uma irmã mais velha dela, descobrimos que haviam segredos na família, que eram evitados de serem comentados com os filhos e os netos. Tratavam-se de memórias muito dolorosas de usurpação de terras do nosso povo e de violências de abusos com as nossas avós da Paraíba. Estes fatos causavam vergonha e medo de serem revelados, receios de julgamento social e de perseguições acirradas por posse de terra em nosso território tradicional.
Percebemos que além da categoria pardo está associada a “mistura” do indígena com o negro ou com o branco, a mesma também se tratou de uma estratégia para nossos ancestrais se manterem vivos. No século XVIII muitas famílias indígenas adotaram essa alternativa para sobreviver e não serem oprimidas. Ser nativo, se declarar "índio", era uma prévia condenação à morte ou à escravidão, tendo em vista, que os povos originários foram os primeiros a serem escravizados a serviço da coroa portuguesa. Sem contar que ser “índio”, era moeda de troca também para o tráfico. Muitos de nossos irmãos indígenas foram caçados e levados à Europa para exposições públicas como selvagens exóticos e outras práticas grotescas.
Nossos antepassados criaram muitas outras formas de escaparem das atrocidades e do total genocídio para sobreviverem, mas não escaparam de outra espécie de violência: o etnocídio. Será que temos consciência do peso da opressão familiar que carregamos pelo etnocídio sofrido por nossos pais, avós e bisavós? Nos referimos especialmente às quatro últimas gerações tecidas por esses fios determinantes de apagamento, que em geral, não foram histórias contadas abertamente aos filhos e netos.
Nossa bisavó materna Balbina conheceu nosso bisavô Aquino no período, em que as terras indígenas eram invadidas, ou compradas ilegalmente por homens brancos vindos de fora, que cobiçavam enriquecer com a extração da cana de açúcar, para atender os ímpetos da indústria local e mundial do álcool que crescia veloz. Os nativos, os pardos, os caboclos, até hoje são mão de obra boa e barata para a lida nos canaviais e nas usinas.
No final do século XIX, para o início do século XX, ainda era proibida qualquer coisa que identificasse características indígenas. Além da proibição da prática da língua materna de sua etnia desde a Lei de Pombal de 1777, a expressão religiosa, o uso de ervas medicinais, os rituais de cura, mesmo comprovadas seus benefícios por alguns brancos curados pelos Pajés, eram “demonizadas”. Estes, tinham que abrir mão de suas atividades sagradas, ou corriam os riscos de serem mortos, ou queimados vivos para servirem de lição aos que insistiam em desobedecer.
Nos rituais da Jurema e nas rodas de toré no Nordeste com suas toantes nas línguas tupi, yathê, patxohã, kiriri/kariri e suas variantes dialetais, dzubukuá, Kipeá, entre outras, que eram algumas das praticadas, foram se tornando cada vez mais ocultas e escassas com a morte dos anciões, acompanhada pelo medo das represálias e perseguições violentas pelos exploradores invasores das terras e das florestas. Serem chamados de feiticeiros, era facilmente alvos de pena de tortura e de morte.
Sem a prática dos cânticos sagrados, das narrativas tradicionais, a imposição religiosa católica e de nomes portugueses aos indígenas, foi se perdendo e silenciando identidades e favorecendo a criação de uma política opressora pelo poder da colonização sem restrições.
Foram mais de cinco séculos de opressão que ainda sofremos, pois tivemos que esperar a constituição de 1988, para termos a liberdade de assumir a cidadania brasileira sem abrir mão de nossas diversidades étnicas, religiosas e culturais.
Em 1989, na Convenção de Genebra 169 da OIT, ampliamos nossos direitos humanos, enquanto povos indígenas com soberania, sem depender da prerrogativa brasileira. Este foi um grande salto em nossas lutas e conquistas política, econômica e social.
Sobretudo, no artigo 1 da convenção 169 da OIT, incorporada pelo decreto 5051/04, diz que a consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada critério fundamental para determinar os grupos indígenas. Ou seja, reconhece a autodeclaração do sujeito que sente, se percebe e se descobre indígena.
Sendo assim, como remanescente do povo Potiguara do RN, pelo lado paterno e pelo lado materno, registrada como parda, sem ter a consciência, de que essa categoria escondia nossa identidade e as raízes de nossos ancestrais, temos o direito legítimo de contestar essa categoria e declarar: não somos pardos, somos indígenas Potiguara!
Essa retomada identitária, é mais que nosso dever de honrar os ancestrais escravizados e aniquilados pelos invasores europeus. É parte de nosso processo de construção humana, social e cultural.
Por isso, irmãos e irmãs que foram e ainda são vistos como pardos, vamos rever as consequências do apagamento e desrespeito a esses nossos direitos e refletirmos a responsabilidade individual e coletiva que temos em assumir a nossa identidade. Uma delas, é descobrir quem somos e quebrarmos estereótipos e paradigmas colonizadores que instalaram a opressão e o negacionismo que ainda vivemos.
Assumindo a retomada identitária indígena, é comum sofremos injúrias daqueles que afirmam que no Rio Grande do Norte não tem "índios". Sendo este mais um dos enganos e fraudes de nossa história, que além dos Potiguaras, outras etnias do Nordeste como os Povos Tapuia Tarairiu, Paiacu, Tabajara e Tupinambá enfrentam.
Portanto, quem deseja ressignificar sua formação humana, cultural e social, acorde, dialogue com seus parentes, seus anciões, leia os documentos de pesquisadores sérios no assunto e redescubra seu passado e o seu presente. Não temos mais condições de omitir nossa essência e prosseguirmos enterrando nossos ancestrais que sofreram injustiças e crimes hediondos. O sangue deles correm em nossas veias e pede para resistir e existir!
Eva Potiguara/ Dra Evanir O. Pinheiro
Mulher indígena Potiguara da Aldeia Sagi Jacu -Baía Formosa /RN.
Natal, 30 de abril de 2024.
Sobre a autora:
Eva Potiguara pertence ao Povo Potiguara Sagi Jacu, em Baía Formosa/RN. Graduada em Artes visuais, Mestrado e Doutorado em Educação pela UFRN, é Professora e pesquisadora do IFESP-SEEC, atuando nos cursos de Pedagogia e Letras. É produtora cultural da EP Produções, escritora, ilustradora, contadora de histórias, articuladora nacional do Mulherio das Letras Indígenas, membro da UBE/RN, da SPVA e de várias academias de Letras no Brasil e em Portugal. Tem livros solos infantis e de poesia, publicados no Brasil e em Portugal. Ganhadora do Prêmio Jabuti 2023 na categoria Fomento à Leitura e do Prêmio Literatura de Mulheres Maria Carolina de Jesus 2023, na categoria Romance.
*ESTE CONTEÚDO É INDEPENDENTE E A RESPONSABILIDADE É DO SEU AUTOR (A).